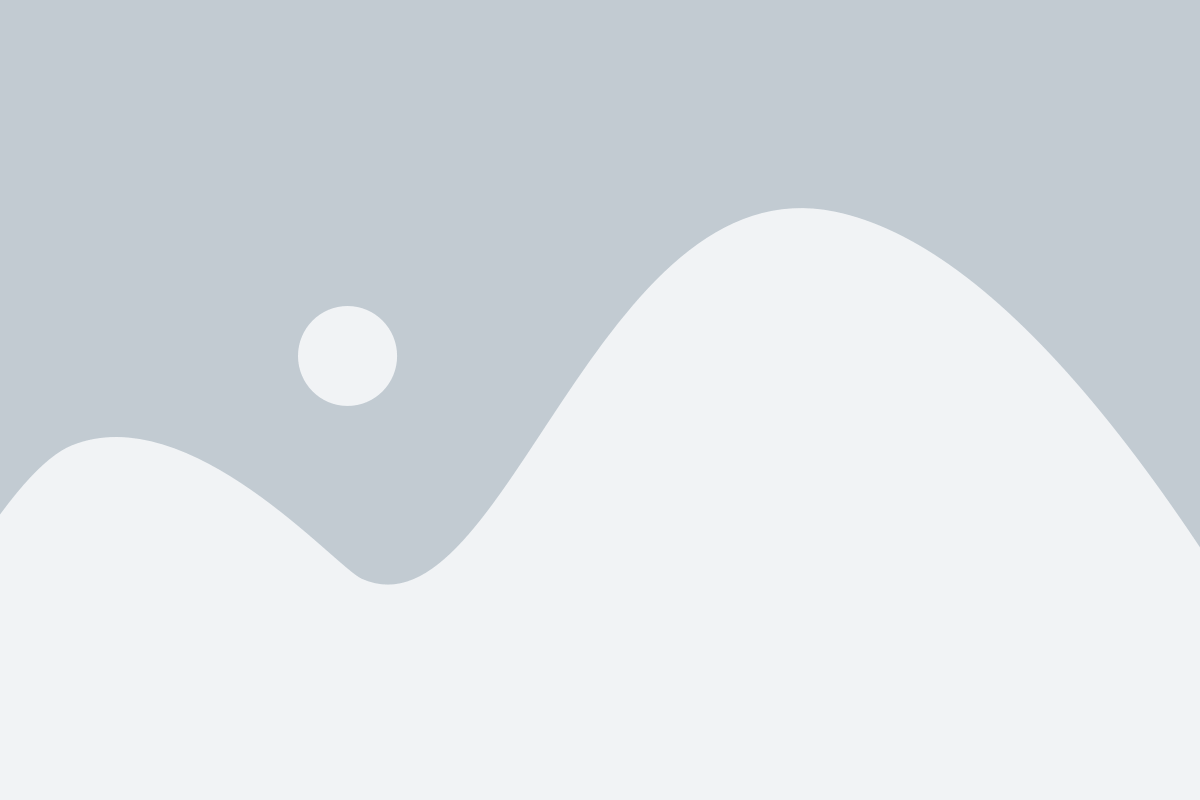Interessante se constitui o debate que hoje se tem promovido no âmbito das Ciências Sociais a respeito do desenvolvimento do capitalismo nos espaços rurais. O entendimento e as controversas dos estudiosos e especialistas sobre o tema tem fornecido elementos mais que robustos para ilustrar a complexidade das pesquisas e teorias desenvolvidas sobre o tema. A questão agrária e a dicotômica relação campo-cidade têm se revelado, historicamente, uma intrínseca problemática social, política e econômica, que por vezes tem suscitado análises fechadas em vertentes teóricas deterministas, a exemplo das perspectivas estruturalistas. Por sua vez, é crescente e considerável as abordagens que revelam, no campo sociológico e antropológico dos espaços rurais, as ações dos sujeitos sociais do/no campo.
Certamente que tanto quanto as abordagens estruturais como as de cunho sociológico-antropológico são importantes, mas que tomadas em separado podem constituir-se em um determinismos. A grande questão a se pensar é que o campo, assim como a cidade e os sujeitos desses espaços, constituem relações inerentes aos processos macrossociais e microsociais de fundamental conexão com as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade. Portanto, nada mais relevante do que destacar tais processos, que geram mudanças a partir de continuidades e descontinuidades históricas e sociais.
No campo, as transformações histórico-sociais foram conduzidas de modo mais ou menos dramático, pelo avanço do capital e suas forças hegemônicas. Desde o advento da indústria, onde o campo passara a ser um componente secundário em relação às cidades – ao menos no que toca à dimensão política e econômica – o capitalismo tem elevado seus tentáculos aos espaços rurais, aos sujeitos que nele e a partir dele tecem suas trajetórias de vida e relações sociais.
Diante o exposto, o presente texto tem por objetivo abordar três frentes de discussões. A primeira buscará refletir sobre o avanço do capital no campo e seus efeitos, bem como entender os processos de apropriação de relações de trabalho e produção não-capitalista como mecanismo de reprodução ampliada do capital. A segunda, consistirá na análise do processo de enfrentamento e de luta pela terra, assim como a política de assentamentos rurais como uma meio burocrático/estatal de acesso à terra, por parte de trabalhadores sem-terra e diluição de conflitos agrários. Em terceiro, discutiremos os elementos da apropriação do capital de aspectos não-capitalistas como dispositivo de reprodução ampliada, convergindo-se para a potencialização e disseminação do trabalho análogo à escravidão ou escravidão moderna/contemporânea.
Vale ressaltar ainda que o texto está referenciado pelos pressupostos de três autores, são eles: a) Ariovaldo Umbelino de Oliveira, com o texto “A agricultura camponesa no Brasil” (1991); b) Carlos Alberto Feliciano, com o texto “Movimento camponês rebelde” (2006) e c) José de Souza Martins, com o texto “Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano (2009).
É inegável que as profundas transformações instituídas pelo capitalismo no campo, assim também como no espaço urbano, vêm afetando dramaticamente as relações sociais e de trabalho ao longo do processo histórico-social. Desde a Revolução Industrial do século XVIII, o capital se apropriou (se apropria) de forma estratégica dos elementos e dinâmicas específicas do campo e da agricultura, como por exemplo do trabalho, das relações sociais, do solo, dos meios de produção, entre outros. Essa apropriação constitui, ainda hoje, o pilar de sustentação da espacialização do capital pelos lugares e de sua consequente reprodução ampliada, que logo se traduz em um movimento dialético e paradoxal.
O paradoxo está, no sentido das forças produtivas, de que o capital, ao se apropriar dos elementos especificamente do campo e da agricultura, elevou a produtividade de bens e produtos. Elevou-se a produtividade porque ela traduz, justamente, a capacidade técnica de produzir, logo, por conseguinte, aumentou a produção. Além do exponencial crescimento da produtividade e da produção, em destaque provocadas pela alta técnica aplicada ao solo (ferramentas, instrumentos, insumos, inibidores de pragas, etc.) e pela crescente mecanização, o capital introduziu no campo e na produção agrícola a lógica da indústria. Isso significou (e significa), que o campo passou, de modo geral, a estar alinhado com a produção industrial concentrada nos grandes centros urbanos, exigindo-se mais dinamicidade e rapidez nos processos produtivos e flexibilização das relações de trabalho nos espaços rurais.
Tais alterações propiciadas particularmente no âmbito da produtividade e da produção agrícola e de trabalho, acarretaram um esvaziamento do campo, em que parte desses trabalhadores camponeses foram se transformar em exército industrial de reserva nos centros urbanos. Além disso, houve uma intensa deterioração das relações de trabalho, onde, por meio da mecanização agrícola e da perda de autonomia do trabalhador em relação aos meios de produção – pertencentes, agora, aos grupos hegemônicos do capital (empresas, latifundiários, corporações financeiras e o próprio Estado) – implementou-se a exploração da renda da terra e sua consequente especulação, culminando na proletarização deste trabalhador camponês, agora dono não mais de um pedaço de terra, mas unicamente de sua força de trabalho que tem de vender ao dono do capital.
Um aspecto a considerar sobre esse movimento paradoxo do capitalismo no campo e na agricultura, é que para se sobrepor hegemonicamente, o próprio capital necessita de elementos não-capitalistas para se reproduzir. Por essa razão, Oliveira (1991, p. 18) observa que “o desenvolvimento capitalista se faz movido pelas suas contradições, sendo, portanto, em si mesmo, contraditório e desigual”. O autor salienta ainda que a essência do capitalismo é a exploração da força de trabalho, e que no caso da produção do capital no campo e na agricultura, são as relações de trabalho não-capitalistas que se convertem em renda capitalizada da terra, pois reserva ao dono do capital a diluição do custo em mão-de-obra, dos instrumentos e ferramentas de trabalho e, na ponta, da própria produção.
Consequentemente, o capital retido por meio da utilização da mão-de-obra de parceiros, meeiros, agregados, arrendatários e camponeses pelo capitalista, é convertido em renda da terra, que poderá ser utilizado em outras áreas, como na compra de maquinas agrícolas e expansão da propriedade rural. Por esse motivo, em especial, o capitalismo, se apresenta desigual e contraditório em sua essência, porque em muitos casos utiliza-se de relações que, doravante e aparentemente, pareceriam plenamente opostas à lógica do capital. Nesse sentido, “[…] o capital cria e recria para que sua produção seja possível, e com ela possa haver também a criação de novos capitalistas” (OLIVEIRA, 1991, p. 20).
Quando procura analisar, do ponto de vista conceitual e teórico, as categorias “frente de expansão” e “frente pioneira”, Martins (2009) também corrobora com Oliveira (1991) no que se refere à questão da apropriação capitalista de elementos não propriamente capitalistas. No caso particular da frente de expansão, entendida como uma teia de relações de alteridade que envolve diferentes e diversos sujeitos e grupos sociais “empurrados” pela frente pioneira (representada pelos agentes do capital, como empresas, corporações e o Estado), ocorre o que o autor denomina de “relações não capitalistas de produção”. Nesse sentido, “as relações sociais (e de produção) na frente de expansão são predominantemente relações não capitalistas de produção mediadoras da reprodução capitalista do capital. Isso não faz delas outro modo de produção. Apenas indica uma insuficiente constituição dos mecanismos de reprodução capitalista na frente de expansão. Insuficiência que decorre de situações em que a distância dos mercados e a precariedade das vias e meios de comunicação comprometem a taxa de lucro de eventuais empreendedores. Portanto, aí tendem a se desenvolver atividades econômicas em que não assumem forma nem realidade própria os diferentes componentes da produção propriamente capitalista, como o salário, o capital e a renda da terra. Os meios de produção ainda não aparecem na realidade da produção como capital nem a força de trabalho chega a se configurar na categoria salário. Portanto, o produtor não tem como organizar sua produção de modo capitalista, segundo a racionalidade do capital. O capital só entra, só se configura, onde sua racionalidade é possível (MARTINS, 2009, p. 156).
Não se trata tão somente de um movimento constituído no bojo do próprio sistema capitalista, mas da própria condição com a qual esse sistema se reproduz pelos espaços. Tais condições são determinadas pela especificidade de cada espaço, região ou lugar. O que determina de fato sua realização é o espaço e as condições para se fazer valer o desenvolvimento capitalista.
Um fenômeno muito comum no Brasil, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, e que o autor destaca como um elemento claro de apropriação pelo capital às relações sociais e de trabalho não-capitalistas, são a peonagem ou escravidão por dívida. Esse fenômeno ocorre como modelo tácito de uso das forças hegemônicas que escapam à racionalidade do capital, em particular na frente de expansão, “pois ela está mais próxima das relações servis de trabalho do que das relações propriamente capitalistas de produção” (MARTINS, 2009, p. 161).
Outra contribuição para o debate das relações não-capitalistas no campo é a de Feliciano (2006), quando ressalta que o desenvolvimento do capitalismo nos espaços rurais e na agricultura se revelam constantemente contraditório e combinado. De acordo com o autor, é praticamente impossível deixar de lado a intrínseca relação entre a sujeição da renda da terra ao capital, justamente no tocante ao processo de expansão do capitalismo no campo. Ademais, o autor salienta ainda que as relações capitalistas e não-capitalistas constituem movimentos que se entrelaçam, ora de modo mais intenso, ora de maneira amena, a depender de questões conjunturais e estruturais.
Diante disso, quando falamos de contradição existente no que se refere ao capitalismo no campo, entendemos que este estabelece relações de produção tipicamente capitalistas na forma do assalariamento, ao mesmo tempo em que cria e recria relações não-capitalistas. Objetivando essa interpretação, temos o boia-fria, os diaristas, os empregados rurais como expressão de uma relação de produção tipicamente capitalista, que desprovidos dos meios de produção, mais livres, vendem sua força de trabalho ao capital. Já no caso das relações não-capitalistas de produção, podemos citar produção camponesa, produção comunitária, produção coletiva etc (FELICIANO, 2006).
Observa-se que a produção coletiva, comunitária e camponesa se revela por sua natureza histórica uma forma não-capitalista, porém, dentro do próprio sistema global de reprodução ampliada do capital. Ou seja, as experiências coletivas e cooperativas no campo e na agricultura, em muitos casos, sujeitas à renda da terra derivadas do grande capital agrário, podem ser pensadas como alternativas de desenvolvimento social, pois é dessa relação tida como não-capitalista que conserva a sobrevivência de milhares de homens, mulheres e crianças.
Os dados do último Censo Agropecuário publicado em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que a concentração fundiária no Brasil não apenas se mantém historicamente, como tem aumentado nos últimos anos. No que se refere aos dados quantitativos, ao se analisar o índice de Gini, utilizado para medir as desigualdades na distribuição da terra, percebe-se que a estrutura fundiária brasileira ainda apresenta um alto grau de concentração, que se manteve praticamente inalterado entre 1985 e 2006, e cresceu no último levantamento. Segundo o Censo, o índice de Gini – indicador da desigualdade no campo – registrou 0,867 pontos, patamar mais elevado em relação aos dados verificados nas pesquisas anteriores: 0,854 (2006), 0,856 (1995-1996) e 0,857 (1985). Cabe observar que quanto mais perto essa medida está do número 1, maior é a concentração na estrutura fundiária (IBGE, 2017).
Não obstante, deixa-se em evidencia que o processo de reprodução do capital, em sua dimensão ampla, congrega valores e elementos considerados, pelo próprio sistema, não-capitalistas. Como sugerem os autores, cabe aos estudiosos aprofundarem seus estudos a respeito dessa dinâmica específica e cada vez comum na atualidade. Objetivamente, é mais do que necessário considerar tais questões na análise de dada realidade social, sem desmerecer outras possibilidades de interpretação teórica e mesmo de enfrentamento político.
Não resta dúvida que a luta pela terra se converte a cada momento da história como luta política. Isto é, a questão agrária não é simplesmente uma problemática voltada exclusivamente para o campo e aqueles que nele residem. Trata-se de uma problemática histórica que envolve todos nós, quer seja do campo ou da cidade. Do ponto de vista histórico, o enfrentamento e o embate inerente à luta pela terra perpassa à guisa dos projetos políticos e dos conflitos que ensejam transformações mais profundas a despeito da questão agrária brasileira.
No Brasil, a luta pela terra tem seu embrião com a chegada dos portugueses, durante o processo de conquista e colonização, no período que compreende o século XVI. Logo, se implanta o sistema de Capitanias Hereditárias, juntamente com um dispositivo legal que fornecia concessões a particulares no tácito objetivo de ocuparem e explorarem as terras, no que ficou conhecido como Sesmarias. Desde então, a população indígena, negra e camponesa, vêm sendo expulsos de suas terras a pretexto do crescimento econômico, sob a égide das elites agrárias que se apropriaram do estado brasileiro.
Não há qualquer pressuposto que pese em contrário à afirmação de que “o traço essencial da estrutura fundiária brasileira é, portanto, o caráter concentrado da terra” (OLIVEIRA, 1991, p. 29). Outro elemento que potencializou a concentração fundiária no Brasil foi a Lei de Terras de 1850. Tal lei estabelecia a compra e a venda de terras a partir daquele momento. Entretanto, essa lei impedia e limitava o acesso à terra à maioria das pessoas, uma vez que pouquíssimas delas tinham condições para adquirir, mediante compra, uma pequena parcela de terra. Despossuídos de seu principal meio de produção, restou aos trabalhadores do campo empreenderem a luta pela terra, inclusive por meio de movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos e organizações autônomas de luta.
A partir desse enfrentamento, foram surgindo, na arena política, debates sobre a extrema e elevadíssima concentração fundiária, e como promover acesso à terra a trabalhadores do campo sem terra. Surge então a proposta de debate que se volta para uma possível reforma agrária. A partir da década de 1970 e 1980, o Estado é convocado a colocar na pauta das discussões, obrigatoriamente, o tema da reforma agrária. Nesse contexto e sob forte pressão dos trabalhadores sem-terra, dos movimentos sociais (destaca-se o MST), partidos, ligas camponesas, entre outros, nasce a política dos assentamentos rurais, inicialmente pensada como meio para promover amplo acesso à terra para os trabalhadores sem-terra. Entretanto, essa proposta não surtiu os efeitos desejados. Os assentamentos se tornaram muito mais mecanismos da burocracia estatal para dirimir conflitos agrários do que propriamente dito distribuir terras.
Para se ter uma ideia, a soma de todos os quilombos brasileiros – incluindo aqueles oriundos de políticas de assentamento – resulta em área inferior à ocupada pelas dez maiores propriedades do agronegócio no país. A maior de todas, a fazenda Piratininga, situada na divisa dos estados de Tocantins, Goiás e Mato Grosso, se estende por 135 mil hectares, quase o mesmo tamanho do município de São Paulo, o mais populoso do Brasil, com 152 mil hectares de área e 12 milhões de habitantes. Outro exemplo, são as propriedades do Grupo Maggi, que alcançam 252 mil hectares, duas vezes o tamanho do município do Rio de Janeiro e um quarto do total da área quilombola brasileira (GOMES, 2021).
Contudo, a concentração de terras no Brasil não se mede apenas pela proporção da área, como é o caso do índice de Gini. Ela também está diretamente relacionada à distribuição dos recursos financeiros para a agropecuária. No Plano Safra 2021/2022 do governo federal, por exemplo, serão disponibilizados um total de 251,22 bilhões de reais para a produção agropecuária. Desse montante, 211,82 bilhões (84,31%) serão destinados ao agronegócio, enquanto que 39,4 bilhões (15,68%) para a agricultura familiar (Ministério da Agricultura, 2022; Casa Civil, 2022). Em grande medida, serão as grandes empresas e conglomerados do agronegócio, como JBS, RAIZEN ENERGIA, COSAN, CARGILL, MARFRIG, BRF, BUNGE, BAYER (FORBES, 2021), entre outras, que se beneficiarão com a maior fatia do dinheiro público para investimento no setor.
Os dados são claros e revelam, portanto, o desequilíbrio e a disparidade ainda premente no que tange à distribuição dos recursos financeiros, na forma de créditos e financiamentos, para a agricultura familiar, que não obstante, é responsável por cerca de 70% dos alimentos que consumimos, além de responder por 10,1 milhões (67%) das pessoas ocupadas em atividades agropecuárias no país (IBGE, 2017). Esse desnível entre agronegócio e produção agrícola familiar/camponesa é um gargalo histórico e social, oriundo do processo de colonização, onde se optou por um sistema de plantantion, com base na grande propriedade e na monocultura, tendo por objetivo a produção de commodities e a acumulação de capital em larga escala.
Outro dado que chama a atenção e reflete o teor da intensa concentração fundiária no Brasil: são os números da política de assentamentos rurais a partir de 2018. Desde quando Bolsonaro assumiu a presidência no mesmo ano, a política de assentamentos rurais simplesmente parou no país. Dos 1.113 assentamentos do período 2018-2021 no balanço do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), apenas dois são da gestão Bolsonaro. E detalhe importante: foram projetos de assentamentos quilombolas que já possuíam suas respectivas áreas desapropriadas antes de 2018, aguardando apenas o sinal verde do governo para imissão de posse e divisão das parcelas. E isso só aconteceu por uma ordem judicial que obrigou o governo Bolsonaro a transferir a verba para o INCRA, que cumpriu a determinação. Ademais, o atual governo paralisou a tramitação de 513 processos de assentamentos em andamento e abandonou outros 187 autorizados pela Justiça (GIOVANAZ, 2021). Enquanto a política de assentamentos se estagnou no governo Bolsonaro, vemos artroses as tentativas do governo em abrir espaço para garimpos, desmatamentos e exploração predatória de terras indígenas.
Conforme salienta Feliciano (2006), é por esse panorama que se configura e se contextualiza a reformar agrária no país, sendo conquistada aos poucos, pelas bordas, com muito sacrifício e perdas por parte dos camponeses e camponesas que compõem e fazem questão de se mostrar como uma classe social de extrema importância para o desenvolvimento econômico, social, político e cultural do país. De modo algum estamos desconsiderando a política de assentamentos rurais ou mesmo negando sua importância para milhares de assentados e assentadas. Certamente se perguntássemos a algum assentado ou assentada se o assentamento mudou de algum modo sua vida, possivelmente teríamos uma resposta afirmativa. Ora, para quem não tem terra para trabalhar e sobreviver, a simples possibilidade de estar em uma lista de espera para conseguir um pedaço de terra já é uma grande conquista. O que aqui estamos questionando é o sentido prático e de alinhamento com a questão da reforma agrária como projeto e plataforma política que permanece estagnada a décadas.
A realidade concreta da política de assentamentos rurais no Brasil atualmente não constitui o que podemos denominar de reforma agrária. São medidas quase que exclusivamente paliativas e pontuais, servindo à retórica política e burocrática do Estado para sinalizarem positivamente à uma possível realização da reforma agrária no país. Vale lembrar que os assentamentos rurais no Brasil hoje, em sua quase que grande maioria, encontram-se em estado de precarização, sem créditos e políticas de financiamento para que possam dar sustentação à produção, ao trabalho e à reprodução das famílias assentadas.
No limite, é preciso rever a política de assentamentos rurais, que no geral é uma política pública importante, mas que se demonstra deficiente em muitos aspectos. Não se promove uma reforma agrária plena criando assentamentos rurais e nem mesmo por meio de desapropriações que na maioria das vezes servem ao Estado e ao capital como mecanismos de se auto reproduzirem, do ponto de vista da retórica política e econômica. É o questionamento da estrutura agrária e fundiária do país que deve ser o centro das discussões políticas e plataforma dos movimentos de luta pela terra.
Por fim, acredito que a luta pela terra talvez seja nosso maior desafio no Brasil. Mas imagino que também seja a luta por acesso à tecnologia e condições de produção (o que envolve também reservas que viabilizem a produção comunitária e acesso aos nichos consumidores). Não se trata de uma defesa do mercado, mas de uma viabilidade real pra a produção comunitária e camponesa.
Referências
BRASIL. Casa Civil. Destinados R$ 135 bilhões para a safra 2021/2022, por meio do Banco do Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/junho/destinados-r-135-bilhoes-para-a-safra-2021-2022-por-meio-do-banco-do-brasil. Acesso em: 06 mar. 2022.
BRASIL. Ministério da Agricultura. Agricultura familiar terá crédito de R$ 39,4 bilhões. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2021/06/agricultura-familiar-tera-credito-de-r-39-4-bilhoes. Acesso em: 06 mar. 2022.
BRASIL. IBGE. Estrutura fundiária. 2017. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101773_cap2.pdf. Acesso em: 06 mar. 2022.
BRASIL. IBGE. Censo agro. 2017. Disponível em: https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/index.html Acesso em: 06 mar. 2022.
FELICIANO, Carlos Alberto. Movimento camponês rebelde. São Paulo: Contexto, 2006.
FORBES. As 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro. 2021. Disponível em: https://forbes.com.br/forbesagro/2021/03/as-100-maiores-empresas-do-agronegocio-brasileiro-em-2020/. Acesso em: 18 mar. 2022.
GIOVANAZ, Daniel. Dos 1.133 assentamentos no balanço do Incra de 2020, só dois são da gestão Bolsonaro. 2021. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/dos-1-133-assentamentos-no-balanco-do-incra-de-2020-so-dois-sao-da-gestao-bolsonaro. Acesso em: 18 mar. 2022.
GOMES, Laurentino. Escravidão: da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de dom João ao Brasil. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2021. (Vol. 2).
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A agricultura camponesa no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991.
MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo, Hucitec, 1997.